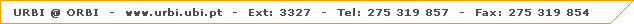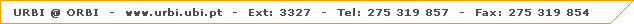José Manuel Boavida Santos *
|
Bolonha e a ideia de Universidade
Para avaliar o impacte das reformas que o processo de Bolonha vai introduzir na universidade portuguesa é indispensável ter presente ao espírito uma ideia, um paradigma do que deveria ser uma universidade. Só uma ideia clara dos fins permite dizer se os meios, as medidas concretas de uma reforma, são bons, menos bons ou francamente maus.
O grande reformador da universidade europeia, num momento decisivo da modernidade em que a instituição universitária atravessava uma profunda crise, foi Wilhelm von Humboldt (1767-1835), o ministro da Prússia que, em 1810, pôde concretizar uma nova ideia de universidade com a fundação da Universidade de Berlim. Nessa época, havia na Alemanha universidades a fechar. A origem da crise estava numa ideia de universidade desajustada dos modos de produção de saber da ciência moderna. Pensava-se que a função da universidade era apenas de transmitir um saber eterno, definitivo e acabado; não se tinha em conta a enorme proliferação de saberes permitida pela ciência moderna e a necessidade de sistematizar a produção constante de novos conhecimentos através da investigação.
A fundação da universidade de Berlim por Humboldt foi uma success story. O seu modelo foi rapidamente adoptado em toda a Alemanha, e, mais tarde, viria a exercer uma influência decisiva na concepção das grandes universidades norte-americanas, como Harvard ou Yale – que são, na sua essência, coisa que muita gente ignora, universidades humboldtianas.
O princípio central da ideia humboldtiana de universidade é a famosa “unidade indissolúvel do ensino e da investigação”. Isto significa que a matéria a ensinar é, idealmente, um saber adquirido em primeira mão pelo docente na qualidade de investigador. Uma tal ideia tem óbvias implicações práticas ao nível dos calendários escolares e horários, ou seja da gestão do tempo consagrado ao ensino e à investigação. Só o docente que tiver tempo para investigar, e para se informar do state of the art na sua área, poderá desenvolver um ensino de carácter verdadeiramente universitário. Dois outros princípios importantes deste modelo de universidade são o da liberdade do ensino e da aprendizagem e o da necessária maturidade e autonomia do estudante universitário. O primeiro diz respeito não apenas à liberdade do docente e investigador na escolha das matérias em que se especializa, mas igualmente à liberdade de escolha, pelo estudante, do seu próprio percurso de aprendizagem, o que implica, na prática, a existência de disciplinas de opção livre e um sistema de major e minor.
Outra característica importante da universidade humboldtiana, enfim, está na ideia de que a unidade dos saberes universitários deve residir na própria humanidade do homem, ou seja deve visar a formação humana dos jovens. É por esta razão que as humanidades, e em particular a filosofia, estiveram até hoje no centro da universidade humboldtiana. É por isso que, ainda hoje, nas universidades dos países nórdicos e em muitas dos Estados Unidos, disciplinas como a Ética e a Epistemologia são obrigatórias para todos os estudantes de todas as faculdades.
Analisado à luz da ideia humboldtiana de universidade, o processo de Bolonha contém vários elementos que vão no bom sentido. Se for bem aplicado poderá trazer um nítido progresso às universidades portuguesas. Infelizmente, os textos legislativos já disponíveis também contêm algumas ideias de duvidosa qualidade, que é necessário interrogar, e mesmo criticar, para que não venham a prejudicar o essencial.
Com efeito, há que esconjurar dois perigos potencialmente contidos nalgumas disposições dos textos de Bolonha: um certo pedagogismo e uma inquietante tendência para a burocracia. Uma ideologia pedagogista, que já causou os estragos de todos conhecidos nos ensinos básico e secundário, prepara-se, agora, à boleia de Bolonha, para entrar na universidade. É disto um exemplo a proposta de basear o sistema de ensino num “desenvolvimento de competências” e não na “transmissão de conhecimentos”. Esta proposta é ambígua, susceptível de induzir em erro e, levada ao limite, absurda. Sabe-se desde os tempos de Sócrates que o bom pedagogo deve sobretudo desenvolver capacidades de pensar, de fazer e de agir, ou seja “competências”. O filósofo ateniense gabava-se de não ensinar nada, mas apenas de ser a “parteira” que se limitava a ajudar o aluno a chegar por si próprio ao saber. A ideia do “desenvolvimento de competências” é, portanto, mais antiga do que a chegada da pólvora ao Ocidente, e os bons professores sempre a aplicaram. Dito isto, não faz grande sentido opor o desenvolvimento de competências à aquisição de conhecimentos. A ideia em causa sugere que é possível desenvolver competências sem adquirir conhecimentos. Coisa que, em matéria de ciência, é absurdo. O que se passa, no bom ensino, é que as duas coisas estão intimamente ligadas: O professor de matemática que ensina uma demonstração está a transmitir, ao mesmo tempo, o conhecimento das definições e axiomas na base dessa demonstração e a competência de demonstrar, ou seja de pensar matematicamente. Isto para não falar de disciplinas, como por exemplo a história, nas quais as competências do pensar pressupõem a aquisição prévia de uma massa de conhecimentos factuais.
Igualmente negativa, nos textos de Bolonha, é uma propensão à burocracia, que se manifesta, por exemplo, na ideia de calcular os créditos com base numa contagem pormenorizadíssima de todas as actividades e horas da vida dos alunos. Está aqui patente a ilusão tecnocrática de que tudo é quantificável, e de que, neste caso, a contagem das horas da vida estudantil seria o critério mais “objectivo” de quantificação. A realidade , porém, é que estes cálculos de horas, que nos irão roubar um tempo precioso, serão largamente da ordem do faz de conta e da ficção. Primeiro, porque o tempo de estudo para obter um bom resultado pode variar muito de um sujeito para outro. Segundo, porque um diploma que certifique 1600 horas passadas em Harvard ou Heidelberg continuará a valer mais do que um diploma com as mesmas 1600 horas passado por uma universidade de fraca reputação. O mais importante não é o número de horas, os números em geral, mas a omnipresença ou a ausência, numa instituição, de um bom “espírito” universitário – uma coisa que não se vê e não se quantifica.
Passemos aos lados positivos do processo de Bolonha. Neste capítulo, devemos começar por aplaudir uma lei (a nova lei dos “Graus académicos e diplomas do ensino superior”), que vai constituir uma peça jurídica central deste processo, cujas disposições vêm clarificar conceitos importantes, e, se forem cumpridas, poderão fazer mexer a universidade portuguesa no sentido da ideia humboldtiana de universidade. Como já referi, o cerne desta ideia é a “unidade do ensino e da investigação”. Neste sentido, o facto de a nova lei distinguir claramente as funções das universidades e dos institutos politécnicos, no âmbito do ensino superior, reservando às primeiras o essencial da actividade de investigação, merece ser aplaudido. Até agora, apesar de a investigação figurar em lugar eminente no ECDU, na prática diária, o seu lugar na universidade portuguesa tem sido tudo menos claro. Basta dizer que, enquanto que um docente que falte a uma aula sem justificação é imediatamente passível de medidas disciplinares, no que toca à actividade de investigação, em Portugal, é possível ser professor universitário e passar décadas (em casos extremos todo o longo período que vai do doutoramento à reforma) sem publicar uma linha. A nova lei não se limita a dar importância retórica ao elemento investigação (como acontecia na legislação anterior), mas prevê disposições concretas que vão obrigar as universidades portuguesas a levar esta actividade muito mais a sério do que até agora.
Dos três ciclos de estudos universitários previstos por Bolonha, os dois últimos, mestrado e doutoramento, terão que estar fortemente ligados às actividades de investigação levadas a cabo nas universidades. Enquanto que a licenciatura é um ciclo de formação de base, que na universidade deverá ser de carácter académico (um ciclo preparatório do acesso aos 2º e 3º ciclos), e no politécnico deverá visar sobretudo uma formação de “carácter profissional”, no mestrado, a universidade já deverá assegurar ao estudante “uma especialização de natureza académica com recurso à actividade de investigação” (Artº 18º). Em termos simples: o mestrado é uma iniciação à investigação. Isto significa que, numa dada área científica, só uma universidade onde se faça investigação de qualidade nessa área poderá abrir o respectivo mestrado. A nova lei prevê critérios muito exigentes para a abertura de mestrados e doutoramentos, assim como a criação de uma “agência de acreditação” incumbida de avaliar periodicamente o preenchimento de tais critérios por parte das instituições.
Estes critérios relativos à qualidade da investigação serão particularmente draconianos no que concerne ao doutoramento. A nova lei estipula que, numa dada área científica, só as universidades onde exista uma “experiência acumulada de investigação sujeita a avaliação e concretizada numa produção científica e académica relevantes”, poderão conferir o grau de doutor nessa área (Artº 46º). Na prática, isto significa que só um departamento que possua uma unidade de investigação bem classificada pela FCT poderá propor um doutoramento na sua área.
Aquilo que, no futuro, vai distinguir as universidades em relação a outras escolas, cuja dignidade e necessidade para o país ninguém põe em causa, serão os mestrados e os doutoramentos, os ciclos de estudos intimamente ligados à investigação. Isto significa que só as universidades que apostarem nos três ciclos de estudos, e não apenas no primeiro, o que significa, como é evidente à luz do texto da lei dos graus, apostar forte na investigação, poderão manter a médio e longo prazo o seu estatuto universitário. Wilhelm von Humboldt chegou a Portugal, via Bolonha. Willkommen Herr Minister! Seja bem-vindo, Senhor Ministro.
* Director do curso de Filosofia da UBI |